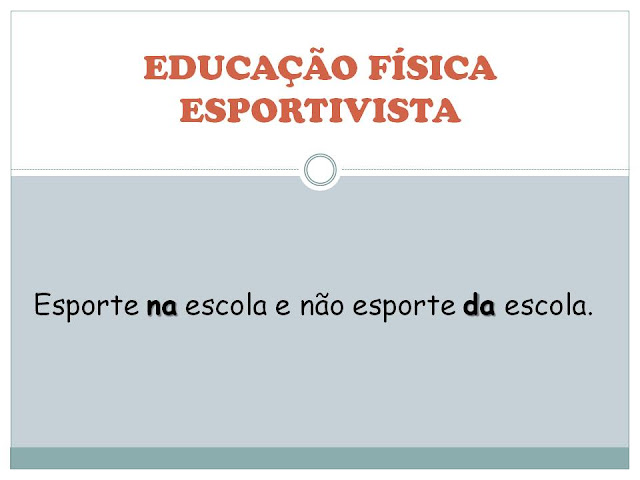Educação
Física é o conjunto de atividades físicas não-competitivas e esportes com fins
recreativos quanto à ciência que fundamenta a correta prática destas
atividades, resultado de uma série de pesquisas e procedimentos estabelecidos.
Também é um componente curricular no ensino fundamental e médio, destinada a
transmissão e reelaboração das culturas corporais. Chega ao Brasil em 1810 com a Academia Real Militar. Em 1874 esta
prática é estendida às mulheres.
As
tendências da Educação Física dividem-se em: higienista, militarista,
pedagogicista, esportivista, competitivista, popular e crítico-social.
EDUCAÇÃO FÍSICA
HIGIENISTA
A concepção denominada Educação Física Higienista era uma concepção
particularmente forte nos anos finais do Império e no período da Primeira
República (1889 - 1930), que se preocupava em instituir a Educação Física como
agente de saneamento público, agindo como protagonista num projeto de assepsia
social, tendo um papel fundamental na formação de homens e mulheres sadios,
fortes, dispostos à ação.
Para tal concepção a ginástica, o desporto, os jogos recreativos, etc.,
deveriam disciplinar os hábitos das pessoas no sentido de levá-las a se
afastarem de práticas capazes de provocar a deterioração da saúde e da moral, o
que comprometeria a vida coletiva. Assim, a perspectiva da Educação Física
Higienista vislumbrou a possibilidade e a necessidade de resolver o problema da
saúde pública pela educação. "O
envolvimento dos higienistas com a educação escolar se deu, portanto, dentro de
compreensão desta como sendo uma extensão da educação familiar."
(Castellani, 1991, p. 45).
Vários pontos defendidos pelo pensamento liberal em relação à Educação
Física, e que culminaram naquilo que estamos designando de Educação Física
Higienista, estão vivos, ainda hoje, permeando os discursos de autoridades
governamentais, de pedagogos, de médicos e professores de Educação Física.
EDUCAÇÃO FÍSICA
MILITARISTA
A Educação Física Higienista, preocupada com a saúde, perdeu terreno
para a Educação Física Militarista (1930 - 1945), que derruba o próprio
conceito de saúde, para vinculá-lo agora a saúde da Pátria.
Esta concepção visava impor a toda sociedade padrões de comportamento
estereotipados, frutos da conduta disciplinar própria ao regime de quartel,
cujo objetivo fundamental era a obtenção de uma juventude capaz de suportar o
combate, a luta, a guerra, enfim, a formação de um cidadão-soldado capaz de
obedecer cegamente e de servir de exemplo para o restante da juventude pela sua
bravura e coragem. É nessa construção do novo homem que podemos entender a
Educação Física como uma disciplina necessária.
Assim, a Educação Física deveria ser suficientemente rígida para elevar
os cidadãos da nação à condição de servidores e defensores da Pátria. O seu
papel seria de colaboração no processo de seleção natural, eliminando os fracos
e premiando os fortes, no sentido da depuração da raça.
EDUCAÇÃO FÍSICA
PEDAGOGICISTA
Ghiraldelli Júnior (1992) destaca que, após 1945, o chamado período da
democracia populista, a Educação Física Brasileira se envolveu na rede de novo
arcabouço ideológico. A Educação Física Militarista foi obrigada a se reciclar.
Isto não significa, de maneira alguma, que a prática da Educação Física, após
esta derrota, tenha se livrado dos parâmetros impostos pela Educação Física
Militarista.
A concepção Pedagogicista (1945 - 1964), é a concepção que vai reclamar
da sociedade a necessidade de encarar a Educação Física não somente como uma
prática capaz de promover saúde ou disciplinar a juventude, mas de ser uma
prática eminentemente educativa. A ginástica, a dança, o desporto, etc., são
meios de educação dos discentes. São instrumentos capazes de levar a juventude
a aceitar as regras de convívio democrático e de preparar as novas gerações
para o altruísmo, o culto a riquezas nacionais, etc. o sentimento
corporativista de valorização do profissional da Educação Física permeia a
concepção. Assim, é possível forjar um sistema nacional de Educação Física,
capaz de promover a Educação Física do homem brasileiro, respeitando suas
peculiaridades culturais, físico-morfológicas e psicológicas.
Do final do Estado Novo até a promulgação da
primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação de 1961, houve um grande debate
sobre o sistema de ensino brasileiro. A Lei 4024/61 estabeleceu a obrigatoriedade
da Educação Física para o ensino primário e médio. Gradativamente o esporte
ocupa mais espaço nas aulas de Educação Física com a introdução do Método
Desportivo Generalizado, contrapondo aos antigos métodos de ginástica
tradicional.
O descontentamento cada vez maior da sociedade brasileira com o
autoritarismo presente ao longo dos governos militares no final dos anos 70
passou a clamar pela abertura política - a redemocratização.
EDUCAÇÃO FÍSICA
ESPORTIVISTA
O governo dos militares foi à época em que mais se investiu pesado no
esporte na tentativa de fazer uma educação física sustentáculo ideológico, na
medida em que ela participaria na promoção do país por meio do êxito em
competições de alto nível.
Nessa época devido à grande influência que o esporte representava no
sistema educacional é tão forte que não é esporte da escola, mas sim o esporte
na escola.
EDUCAÇÃO FÍSICA
COMPETITIVISTA
A partir do momento em que a Educação Física passou a ser direcionada
para o âmbito competitivista, a relação brasileiro/corpo recebeu uma
significação evidenciada pelo binômio homem/máquina.
GHIRALDELLI
JÚNIOR (1988) nos mostra que a Educação física competitivista também está a
serviço de uma hierarquização e elitização social, bem como, a superação individual
com valores fundamentais e desejados de uma sociedade moderna. O jovem
brasileiro foi sendo limitado nas suas capacidades de crítica e análise, uma
vez que o objetivo maior era a formação do atleta e não do ser humano como um
todo.
Seu
objetivo fundamental é a caracterização da competição e da superação individual
como valores fundamentais e desejados para uma sociedade moderna voltam-se
então para o culto do atleta-herói.
EDUCAÇÃO FÍSICA
POPULAR
É
antes de tudo ludicidade e cooperação. Não se pretende ser “educativa”, ela
entende que a educação dos trabalhadores está intimamente ligada ao confronto
cotidiano imposto pela luta de classes.
EDUCAÇÃO FÍSICA NA
VISÃO CRÍTICO-SOCIAL DOS CONTEÚDOS
A tendência pedagógica
crítico-social dos conteúdos teve como objetivo propiciar ao alunado
conscientização, emancipação e participação efetiva no processo
ensino-aprendizagem. Para tanto o pensamento racional dedutivo que parte do
todo, da visão global, para as partes, era utilizado, oportunizando a observação
dos diferentes e mais abrangentes aspectos da questão estudada.
O pensamento divergente foi
muito utilizado pois buscava a raiz, o âmago dos questionamentos para poder
detectar o problema e sua origem. E, a utilização do conhecimento e análise da
realidade e vivências do aluno para a solução de problemas era um dos
pressupostos desta tendência. Assim como a valorização e o incentivo à busca de
soluções próprias e criativas para as problematizações e situações conhecidas e
vivenciadas pelos alunos.
Apresentação em slide:
REFERÊNCIAS
ALMEIDA, Rosângela de Sena. A Tendência Pedagógica Crítico-Social dos
Conteúdos na Educação Física Escolar. Disponível em: <http://cev.org.br/biblioteca/a-tendencia-pedagogica-critico-social-dos-conteudos-educacao-fisica-escolar>.
Acesso em: 07 mai. 2011.
CUSTÓDIO, Laís Teresinha. A cultura corporal na
escola. Suas inter relações com a
construção de conhecimentos: avanços e possibilidades. Disponível em: <http://www.efdeportes.com/efd66/corporal.htm>. Acesso em: 07 mai. 2011.
construção de conhecimentos: avanços e possibilidades. Disponível em: <http://www.efdeportes.com/efd66/corporal.htm>. Acesso em: 07 mai. 2011.
MORAES, Luiz Carlos de. História da Educação Física. Disponível
em: <http://www.cdof.com.br/historia.htm>.
Acesso em: 07 mai. 2011.
SEIXAS, Thais. RESUMO: GHIRALDIDELLI Jr. EDUCAÇÃO
FÍSICA PROGRESSISTA. IN: EDIÇÀO LOYOLA,
SÃO PAULO, 1998. Disponível em: <http://thaisseixas.
blogspot.com/2008/04/resumoghiraldidelli-jreducao-fsica.html>. Acesso
em: 07 mai. 2011.
TAVARES, Marcelo; DIAS, Ana
Catarina; JÚNIOR, Marcílio Souza. Educação física Escolar: contribuições teórico-metodológicas para a prática pedagógica dos
professores de Educação Física. Disponível em: <http://www.efdeportes.com/efd135/pratica-pedagogica-dos-professores-de-educacao-fisica.htm>.
Acesso em: 07 mai. 2011.
TEIXEIRA, Cláudia Maria Calhau; WERNECK, Chistianne Luce Gomes. Corpo e Educação Física no contexto social
brasileiro: reflexões. Disponível em: <http://www.motricidade.com/index.php?option=com_content&view=article&id=169:qcorpo-e-educacao-fisica-no-contexto-social-brasileiro-reflexoesq&catid=50:gestao&Itemid=90>.
Acesso em: 07 mai. 2011.
TOMÁZ, Adriane Silva. A Educação Física frente a atuais desafios.
Disponível em: <http://cev.org.br/biblioteca/a-educacao-fisica-frente-a-atuais-desafios>.
Acesso em: 07 mai. 2011.